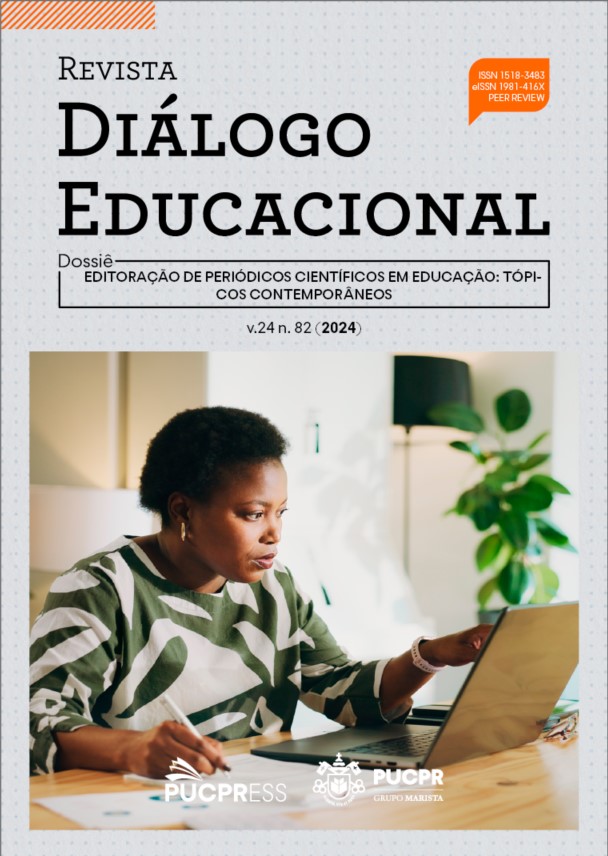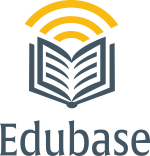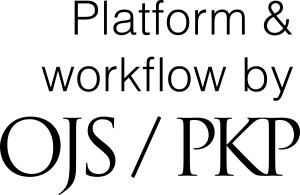A formação inicial na licenciatura em educação do campo dirigida para formação humana
DOI:
https://doi.org/10.7213/1981-416X.24.082.AO01Resumo
O presente artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa que teve como objetivo analisar em contexto de pesquisa-formação onto-crítica, o processo de constituição da formação inicial docente na licenciatura em educação do campo dirigida para a formação humana em uma perspectiva histórico crítica. Participaram da pesquisa quatro estudantes da Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza. A pesquisa foi desenvolvida nos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético, da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Como metodologia utilizou-se a pesquisa-formação onto-crítica por meio de dispositivos para formação e produção de dados: relatórios e projetos, encontros formativos, diários formativos. Os dados foram analsiados a partir dos núcleos de significação. Os resultados da pesquisa revelam que a formação inicial na LEdoC se dirige para formação humana em uma perspectiva histórico crítica, quando é mediada por uma teoria pedagógica crítico radical, que possibilita o desenvolvimento de significações da atividade de ensino, como condição para promover a compreensão da prática social para além da aparência fenomênica. É necessário então, criar condições para que no processo de formação inicial se desenvolva significações da importância da mediação do conhecimento historicamente acumulado presente nos conceitos científicos como condição do desenvolvimento das máximas capacidades humanas que engendrem a compreensão crítica da realidade e sua transformação qualitativa. As signficações das participantes vão ao encontro dessa compreensão ao revelarem que o motivo da atividade do professor passa ser o desenvolvimento do aluno por meio do estudo e da aprendizagem teórica das legalidade naturais e sociais.
Downloads
Referências
AGUIAR, W. M. J.; SOARES, J. R.; MACHADO, V. C. Núcleos de significação: uma proposta histórico-dialética de apreensão das significações. Cadernos de Pesquisa, v. 45, n. 155, p. 56–75, jan. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/cJgwjVtjwQ4thrMbxB4ZPFm/#. Acesso em 15 de abr. 2021.
ASBAHR, F. DA S. F. Sentido pessoal, significado social e atividade de estudo: uma revisão teórica. Psicologia Escolar e Educacional, v. 18, n. 2, p. 265–272, maio 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/PEC/a/VKhxJwS5qgjmgCrw67mPScH/?lang=pt#. Acesso em 20 de out. 2022.
BERNARDES, M. E. M. Ensino e aprendizagem como unidade dialética na atividade pedagógica. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), v. 13, n. 2, jul. – dez. de 2009, p. 235-242. Dis-ponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pee/v13n2/v13n2a05.pdf. Acesso em jul. 2023.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasil no Pisa 2018 [recurso eletrôni-co]. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2020. Disponível em: Relatorio PISA 2018_2020_Lilian 27102020.indd (inep.gov.br). Acesso em 27 jan. 2021.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo Escolar da Educação Básica 2021. Brasília, DF: Inep, 2022.
BEHRING, E. R. Brasil em contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. 2. ed. - São Paulo: Cortez, 2008.
BONFIM, L. J. S. A interface entre Educação de Jovens e Adultos e Educação do Campo: tensões e perspectivas. In: LIMA, E. S.; MELO, K. R. A. (Org.). Educação do Campo: reflexões políticas e teórico-metodológicas. Teresina: EDUFPI, 2016, p. 207-227
CALDART, R. S. Concepção de Educação do Campo: um guia de estudo. In: MOLINA, M. C.; MARTINS, M. F. A. (org.). Formação de formadores: reflexões sobre as experiências da licenciatura em educação do campo no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019, p. 52-73.
CALDART, R. S. Educação do campo: notas para análise de percurso. Estudos Avançados. Rio de Janeiro, v. 7 n. 1, mar./jun. 2009. (p. 35-64). Disponível em: www.scielo.br/pdf/tes/v7n1/03.pdf . Acesso em: 21/03/20.CRUZ, P; MONTEIRO, L. (Org.) Anuário da educação brasileira. São Paulo: Moderna, 2021.
CARVALHO, M. V. C.; IBIAPINA, I. M. L. M. A abordagem histórico-cultural de Lev Vigotski. In: CARVALHO, M. V. C; MATOS, K. S. L. (Org.). Psicologia da educação: teorias do desenvolvimento e da aprendizagem em discussão. Forta-leza: EdUECE, 2015, p. 181-222.
COSTA, E. M. O método na obra de Vigotski e a abordagem ontológica do desenvolvimento humano: uma análise histórica. Tese (Doutorado em psicologia) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, São Paulo, 2020.
DUARTE, N. Crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. Campinas, SP, Autores Associ-ados, 2001.
DUARTE, N. O debate contemporâneo das teorias pedagógicas. In: MARTINS, LM.; DUARTE, N. (org.). Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas necessárias. São Paulo: Editora UNESP; Cultura Acadêmica, 2010. E-book. p. 33-49. Disponível em: http://books.scielo.org/. Acesso em 20 abr. 2021.
GALVÃO, A. C.; LAVOURA, T. N.; MARTINS, L. M. Fundamentos da didática histórico-crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2019.E-book.
KOSIC, K. Dialética do concreto. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
LAVOURA, Tiago Nicola. Método pedagógico histórico-crítico e o ensino de Ciências: Considerações para a didática e a prática Pedagógica. Rev. Simbio-Logias, V. 12, n. 17 2020. p. 103-124.
LAVOURA, T. N.; ALVES, M. S.; JUNIOR, C. de L. S. Política de formação de professores e a destruição das forças pro-dutivas: BNC-formação em debate. Práxis Educacional, [S. l.], v. 16, n. 37, p. 553-577, 2020. Disponível em: https://periodicos2.uesb.br/index.php/ eriód/article/view/6405. Acesso em: 17 out. 2021.
LEONTIEV, A. N. As necessidades e os motivos da atividade. In: LONGAREZI, A. M. PUNTES, R. V. (Org.) Ensino de-senvolvimental: ontologia. Livro 1. Minas Gerais: EDUFU, 2017. p. 30-58; 2017.
LEONTIEV, A. N. Desenvolvimento do psiquismo. São Paulo: Centauro, 2004.
LUKÁCS, G. A ontologia do ser social II. São Paulo: Coletivo Veredas, 2018.
LONGAREZI, A. M.; SILVA, J. L. Pesquisa-formação: um olhar para sua constituição conceitual e política. Revista Con-trapontos – Eletrônica, Vol. 13 – n. 3 – p. 214-225 / set-dez 2013. Disponível em: Revista Contrapontos (univali.br). Acesso em: 21 de jan. 2022.
MARQUES, E. de S. A.; CARVALHO, M. V. C. Vivência e prática educativa: a relação afeto-intelecto mediando modos de ser professor e aluno. Obutchénie. Revista de Didática e Psicologia Pedagógica, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1–25, 2019. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/51563. Acesso em: 22 set. 2022.
MARTINS, L. M. O legado do século XX para a formação de professores. In: MARTINS, LM.; DUARTE, N. (org.). For-mação de professores: limites contemporâneos e alternativas necessárias. São Paulo: Editora UNESP; Cultura Aca-dêmica, 2010. E-book. P. 17-32. Disponível em: http://books.scielo.org/. Acesso em 20 abr. 2021.
MARTINS, L. M. Psicologia histórico-cultural, pedagogia histórico-crítica e desenvolvimento humano. In: MARTINS, L. M.; ABRANTES, A. A. FACCI, M. G. D. Periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico: do nascimento a velhice. Campinas, SP, Autores Associados, 2016. P. 13-34.
MARX, K.; ENGELS, F. Ideologia Alemã. São Paulo. Boitempo, 2011.
MESZAROS, I. 2. Ed. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2011.
MOLINA, M. C.; ANTUNES-ROCHA, M. I. Educação do Campo: história, práticas e desafios no âmbito das políticas de formação de educadores - reflexões sobre o Pronera e o PROCAMPO. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 220-253, jul./dez. 2014. Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/issue/view/258. Acesso em: 20 jan. 2021.
MOURA, M. O; (et al.). Atividade orientadora de ensino: unidade entre ensino e aprendizagem. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 10, n. 29, p. 205-229, 2010.
RABELO, J.; JIMENEZ, S.; MENDES SEGUNDO, M. D., As diretrizes da política de Educação para todos (EPT): rastre-ando princípios e concepções IN: RABELO, J.; JIMENEZ, S.; MENDES SEGUNDO, M. D. (Orgs.). O movimento de edu-cação para todos e a crítica marxista. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2015. p. 13-30.
RAMOS, M.; PARANHOS, M. Contrarreforma do ensino médio: dimensão renovada da pedagogia das competências? Retratos da Escola, [S. l.], v. 16, n. 34, p. 71–88, 2022. Disponível em: https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1488. Acesso em: 25 fev. 2023.
SAVIANI, D. A pedagogia histórico-crítica na educação do campo. In: BASSO, J. D.; SANTOS NETO, J. L.; BEZERRA, M. C. S. Pedagogia histórico-crítica e educação no campo: história, desafios e perspectivas atuais. São Carlos: Pedro & João Editores e Navegando, 2016. p. 16-43.
SAVIANI, D.; DUARTE, N. A formação humana na perspectiva histórico-ontológica. Revista Brasileira de Educação, v. 15 n. 45 set./dez. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/yXjXQvzWfhSp5VNhX6KqKLh/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 20 de abr. 2020.
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2019. E-book.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11.ed. Campinas, SP: Autores Associados. 2011.
SILVA, M. S. A educação do campo e sua institucionalidade: o “fio da navalha” pela criação e institucionalização das licenciaturas em educação do campo. In: MOLINA, M. C.; MARTINS, M. F. A. (org.). Formação de formadores: refle-xões sobre as experiências da licenciatura em educação do campo no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019, p. 233- 249. E-Book.
SILVA, E. de O.; MELO, R. A.; LIMA, F. R. A atuação dos movimentos sindicais rurais no enfretamento ao fechamento das escolas do campo no Território Entre Rios: Entre suturas e silenciamentos, uma voz de resistência. Abatirá - Revista de Ciências Humanas e Linguagens, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 54–77, 2022. Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira/article/view/14165. Acesso em: 8 abr. 2023.
VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Editora Universitária Champagnat

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
O(s) autor(es) transfere(m), por meio de cessão, à EDITORA UNIVERSITÁRIA CHAMPAGNAT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.659.820/0009-09, estabelecida na Rua Imaculada Conceição, n.º 1155, Prado Velho, CEP 80.215-901, na cidade de Curitiba/PR, os direitos abaixo especificados e se compromete a cumprir o que segue:
- Os autores afirmam que a obra/material é de sua autoria e assumem integral responsabilidade diante de terceiros, quer de natureza moral ou patrimonial, em razão de seu conteúdo, declarando, desde já, que a obra/material a ser entregue é original e não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros.
- Os autores concordam em ceder de forma plena, total e definitiva os direitos patrimoniais da obra/material à EDITORA UNIVERSITÁRIA CHAMPAGNAT, a título gratuito e em caráter de exclusividade.
- A CESSIONÁRIA empregará a obra/material da forma como melhor lhe convier, de forma impressa e/ou on line, inclusive no site do periódico da EDITORA UNIVERSITÁRIA CHAMPAGNAT, podendo utilizar, fruir e dispor do mesmo, no todo ou em parte, para:
- Autorizar sua utilização por terceiros, como parte integrante de outras obras.
- Editar, gravar e imprimir, quantas vezes forem necessárias.
- Reproduzir em quantidades que julgar necessária, de forma tangível e intangível.
- Adaptar, modificar, condensar, resumir, reduzir, compilar, ampliar, alterar, mixar com outros conteúdos, incluir imagens, gráficos, objetos digitais, infográficos e hyperlinks, ilustrar, diagramar, fracionar, atualizar e realizar quaisquer outras transformações, sendo necessária a participação ou autorização expressa dos autores.
- Traduzir para qualquer idioma.
- Incluir em fonograma ou produção audiovisual.
- Distribuir.
- Distribuir mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permite ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário.
- Incluir e armazenar em banco de dados, físico, digital ou virtual, inclusive nuvem.
- Comunicar direta e/ou indiretamente ao público.
- Incluir em base de dados, arquivar em formato impresso, armazenar em computador, inclusive em sistema de nuvem, microfilmar e as demais formas de arquivamento do gênero;
- Comercializar, divulgar, veicular, publicar etc.
- Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.
- Os autores concordam em conceder a cessão dos direitos da primeira publicação (ineditismo) à revista, licenciada sob a CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENSE, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria.
- Os autores autorizam a reprodução e a citação de seu trabalho em repositórios institucionais, página pessoal, trabalhos científicos, dentre outros, desde que a fonte seja citada.
- A presente cessão é válida para todo o território nacional e para o exterior.
- Este termo entra em vigor na data de sua assinatura e é firmado pelas partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando definitivamente as partes e seus sucessores a qualquer título.
- O não aceite do artigo, pela EDITORA UNIVERSITÁRIA CHAMPAGNAT, tornará automaticamente sem efeito a presente declaração.